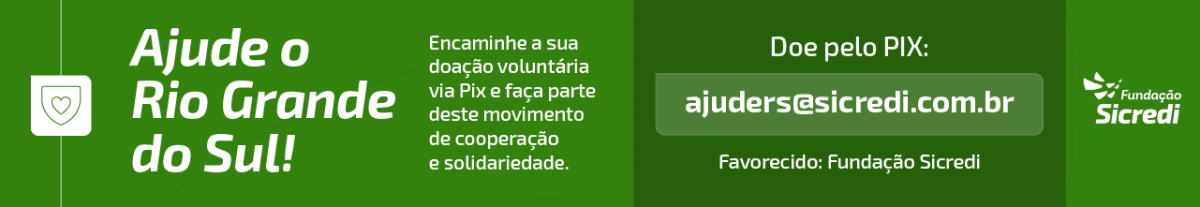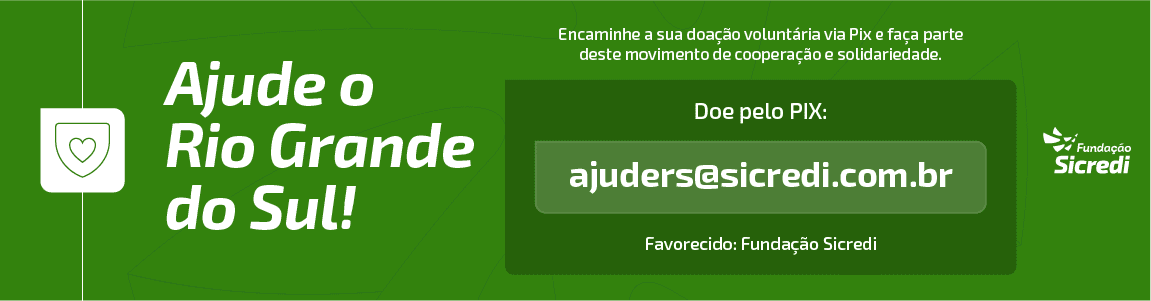“Por favor, não me batam mais. Eu estou morrendo.” Essas foram as últimas palavras de Alex Thomas, após uma brutal sequência de pancadas. O jovem, que se destacava como goleiro nos torneios do Clube Tiro e Caça e pela base do Alvi-Azul, completara 16 anos sete meses antes da trágica e inexplicável morte.
Nascido e criado em Lajeado, era o filho mais velho de Nersi e Walter Thomas. Irmão de Betina. Para os amigos mais próximos e companheiros de futebol, o “Jubão”. Uma referência à vasta cabeleira do então goleiro do já extinto ‘Greminho’. Apesar de vestir azul, ele era colorado.
Na infância, estudou nos colégios Alberto Torres, Castelo Branco, Gustavo Adolfo e Manuel Bandeira. Se formou em “Eletricidade Geral”, pelo Senai. O diploma havia recebido cerca de dois meses antes do fatídico encontro com os sete jovens integrantes da chamada “Gangue da Matriz.”
[bloco 2]
Vítima e assassinos não se conheciam. Cruzaram-se por acaso na av. Paraguassu, em Atlântida. Passava das 2h40min. Alex Thomas estava com um amigo de infância e uma conhecida. Caminhavam nas proximidades da av. Central, em um ponto de encontro dos jovens. Uma provocação, seguida de um retruco inocente, e tudo se transformou em uma briga deliberada pela gangue.
Apesar de se destacar como atleta, Alex não teve chance contra sete agressores. Quatro deles maiores de idade. Levou socos e caiu. Com a ajuda do amigo, tentou correr. Foi derrubado outra vez com um golpe de cabo de vassoura desferido por um dos membros da gangue. Voltou a levantar, e foi atingido por um golpe de arte marcial no peito. Caiu e suplicou para os agressores pararem.
Testemunhas afirmaram que ele apanhou muito nesse intervalo. Tudo descrito no processo judicial. Alguns veranistas viram, de longe, as agressões. Uma senhora com a filha e uma visita. E um rapaz que conversava no alpendre de uma casa próxima.
Os dois amigos, Leandro e Clarice, de 16 e 13 anos, conseguiram fugir. Ele procurou pela BM. Dois policiais em uma viatura socorreram Alex Thomas e o levaram até o hospital de Capão da Canoa. Chegou por volta das 3h. No caminho, estava no banco de trás, com a cabeça sobre o colo do amigo.
Alex deu entrada no Pronto-Socorro com parada cardíaca e pulmonar. Pelo menos três médicos tentaram diversas técnicas de reanimação. Mas o jovem não reagia. Era tarde. Por volta das 6h, eles desistiram. “Vi o médico saindo de uma sala, cheio de sangue na roupa. Ele me disse que tinha tentado de tudo. Eu não acreditava”, lembra a mãe, Nersi, hoje com 71 anos.
O atestado de óbito foi assinado no dia 12 de março pelo médico Mauro Schirmer. O profissional deu como causa da morte uma “hemorragia intratorácica, devido à ruptura traumática de ambos os pulmões e coração.” Resultado dos golpes no peito. O documento não cita o horário preciso da morte. E atesta resultado “negativo” para qualquer dosagem de álcool no corpo de Alex.
O pior dia da vida
Nersi foi avisada por Leandro sobre o fato envolvendo o filho. Ainda ofegante, o jovem de 16 anos, que conseguiu escapar da fúria dos agressores junto de Clarice, chegou à residência onde ela estava, em Xangri-Lá, por volta das 4h. Foi até janela do quarto da mãe de Alex Thomas. Não havia muros nas residências da época. “Ele disse: dona Nersi, o Alex tá no Pronto-Socorro.”
O filho e o amigo haviam deixado a casa cerca de cinco horas antes. “Eu lembro do ‘Leandrinho’ chegando para buscar ele, e o Alex não estava pronto. Estávamos jogando carta. Ele jantou, e depois saíram. A última coisa que ele me disse foi isso: mãe, estamos saindo.”
A saída para uma festa não era motivo de preocupação, afinal, o filho nunca havia se envolvido em confusões. “Naquela época era tudo muito tranquilo. E eles estavam indo à Atlântida, uma praia muito bem conceituada.” Foi com esse mesmo otimismo que Nersi foi até o Pronto-Socorro após o aviso de Leandro.
“Fiquei na frente do hospital, parada. Enxergando sobre uma grade. Via uma movimentação. No fundo, eu achava que estava tudo bem, e que o Alex só estava lá fazendo uns exames.” Mas o filho já chegara desfalecido e com parada cardiorrespiratória ao local. A confirmação da morte veio como um golpe. “Na hora tu não acredita. É muito difícil explicar”, emociona-se.
O médico deixou que ela entrasse na sala onde jazia o corpo. “Mexi no bolso da calça dele e achei a carteira e a chave da casa. Estava tudo cheio de sangue na sala. Foi a hemorragia. Arrebentaram o coração e os dois pulmões.” Todos os machucados pareciam internos, conta ela. “O rosto estava inteirinho. Lindo. E no corpo tinha só um vergão no braço.”
Amigos e familiares contam que Nersi retirou os dois tênis do filho e os levou para fora do hospital. Colocou o par sobre o meio-fio da calçada. E ali ela permaneceu por um bom tempo, de braços cruzados, em silêncio, e olhando para os tênis. “Até hoje, não me lembro de ter feito isso. Não sei explicar o que eu estava pensando.”
Pouco depois do amanhecer, o corpo de Alex Thomas foi enviado ao IML de Porto Alegre para a necropsia. Nersi e a família partiram de carro para Lajeado, interrompendo da pior forma o veraneio. “Eu chorei a viagem inteira. Eu não acreditava. Parecia um sonho.”
A recuperação
Nersi passou por tratamentos psicológicos. A sequência de tristezas lhe perseguiu por pelo menos duas décadas. “Hoje estou melhor. Mas por muito tempo não queria fazer nada, nem tomar banho. Eu via um guri com uma jaqueta parecida com a do Alex e já desabava. Não havia comemoração de Natal, de nada. Deixei de ir ao litoral.”
Passados cinco anos da tragédia, ela perdeu a mãe. Outros dez anos, e o marido Walter morreu por complicações do diabetes. “Não posso dizer que estou recuperada. Mas estou bem. Já voltei várias vezes para a praia. Mas é difícil. Perdi pai e mãe muito cedo. Perdi sogro, sogra. Mas perder um filho é como perder um pedaço do coração. É preciso reaprender a viver.”
Hoje, ela vive sozinha em um apartamento no centro de Lajeado. Assistir a filmes e encontrar com as amigas são suas atividades favoritas. A filha, Betina, mora na cidade catarinense de Concórdia. Alex Thomas teria hoje 46 anos. Seu rosto jovem está por todos os cantos da casa. São dezenas de quadros. Em recortes, ela guarda as centenas de matérias jornalísticas sobre o assunto.
A sina por justiça permanece e, ao mesmo tempo, parece haver frustração. “Justo a gente nunca achou. O problema são as nossas leis. Crimes assim não poderiam custar menos de 20 anos. Mas eu não guardo ódio. Tampouco rancor.” Nestes 30 anos, sem contar o julgamento, ela jamais viu os algozes do filho. E nenhum parente deles procurou pela família Thomas.
[bloco 1]
“Alex era um cara muito legal”
Leandro, o amigo de infância que estava com Alex Thomas naquela madrugada, ainda mora em Lajeado. Não gosta de tocar no assunto. Ele conta com detalhes os fatos que interromperam o convívio com o melhor amigo. “Foi tudo muito rápido.”
Divertiam-se no centrinho de Atlântida, onde hoje funciona um ‘mini-golf’. Falavam sobre o futuro de ambos em um curso profissionalizante no qual estavam inscritos. Estudariam juntos em Taquara. Dias antes, haviam reservado quartos de pensão na nova cidade.
Havia pouco movimento quando decidiram voltar caminhando para casa, em Xangri-Lá, distantes pouco mais de quatro quilômetros. Junto deles, uma vizinha de Leandro no balneário, Clarice, de 13 anos. Ao deixarem a av. Central, seguiram pela calçada da av. Paraguassu.
“Nós avistamos, a 100 metros, dois carros parados do outro lado da avenida. Com uns ‘caras’ sentados em cima do capô e no chão, ao redor. Estavam gesticulando, conversando em voz alta.” Era um Monza e um Fiat Panorama. As placas já estavam anotadas por um comerciante de Capão da Canoa, dono de um bar, onde os jovens teriam se envolvido em arruaças pouco antes.
Quando se aproximaram, os carros arrancaram. Do outro lado da avenida, os ocupantes de um dos veículos gritaram algo para os três adolescentes. “Não lembro bem o que disseram. Foi tipo um grito de bêbado. E nós respondemos da mesma forma. Nada demais. Como se fosse um cumprimento de brincadeira.”
Os dois carros pararam. E depois fizeram o retorno na av. Paraguassu. Estacionaram de maneira brusca ao lado de Alex, Leandro e Clarice. Todos os sete ocupantes desceram e começaram a ameaçar. “Vamos rachar os três no meio”, teriam dito.
“Não deu tempo de conversar. O cara pegou e deu um soco no ouvido do Alex. Foi forte. Ele tonteou. Daí eu o juntei, mas ele estava pesado, zonzo, caindo. Nisso a Clarice saiu correndo de volta pro centrinho.” Nesse momento, Leandro também conseguiu se desvencilhar de três agressores e correu.
“Eu virei de costas e virei em perna (sic). Cruzei as duas pistas e o canteiro e eles me seguiram até o fim da avenida. Aí desistiram. Daí eu não vi mais o que aconteceu com o Alex. Me desesperei.” Leandro diz ter pensando em voltar ao encontro ao amigo, mas optou por correr duas quadras para chamar apoio da BM.
“Eu sabia que sempre tinha uma viatura em um ponto do centro. Cheguei lá e tinha um policial. Com um apito, ele chamou a viatura, que estava a umas duas quadras.” Era uma Chevrolet Veraneio. Assim que o veículo chegou, Leandro entrou e indicou o local das agressões.
Alex estava esticado no chão. Sentado na rua, e com o resto do corpo deitado na calçada. “Era como se tivesse sentado na calçada e caído. Sem marca de sangue. Estava desacordado”, lembra o amigo.
Não lhe deixaram entrar no Pronto-Socorro. De fora, via a intensa movimentação e o suor daqueles que saíam exaustos de tanto tentar reanimar o rapaz. “Mas não adiantava mais.” Leandro foi avisado na manhã seguinte da morte do amigo.
Ele não foi ao enterro. Ficou no litoral para ajudar a identificar os suspeitos. Também não ficou com traumas. “A gente muda convicções. Objetivos. Mas faz muito tempo. Foi uma experiência. Vivo normalmente. Tenho filhos e cuido deles sem excesso de proteção. Não ficou trauma. Hoje veraneio sempre naquela região. E sempre lembro do Alex.”
Galeria de fotos
Os criminosos
A identificação dos envolvidos foi rápida. A notícia da morte de um jovem de 16 anos por espancamento em uma pacata cidade litorânea ganhou repercussão na mídia e nas rodas de conversa na beira da praia.
A maioria dos suspeitos se entregou. Eram conhecidos por integrarem a chamada “Gangue da Praça da Matriz”, da capital. Muitos tinham passagem pela polícia. Sempre por agressão. O inquérito indiciou quatro maiores de idade por homicídio por motivo fútil, com emprego de meio cruel e sem chance de defesa.
O mais velho era Carlos Alberto Fiad do Amaral – o “Bebeto” – então com 22 anos. Era bancário e filho de um ex-prefeito de Palmeira das Missões.
Daniel Sanches Hecker tinha 19 anos na época, era chamado de “Daniel Louco”, e Bolívar Canabarro Tróis Netto, o “Dodi”, tinha 19 anos e seu pai era major do Exército.
Por fim, foi indiciado Cid Olivério Borges, também com 19 anos. Era funcionário da Assembleia Legislativa e filho de deputado estadual. No processo, constam dois boletins registrados contra ele por agressão, poucos meses antes do crime. Bolívar, da mesma forma, tinha três denúncias por lesões entre junho e setembro de 1985.
Em um desses casos, os dois estavam acompanhados de um dos menores, Fábio Delapieve Bressan, então com 17 anos, e que já somava, na época, quatro ocorrências policiais. Os outros dois menores eram Márcio de Freitas Nunes, 16, e José Carlos de Azevedo Moreira, 15, conhecido como “Zé do Brinco” ou “Zé da Baura.”
O julgamento
O caso é um dos 32 processos denominados impactantes e que estão arquivados no Memorial do Tribunal de Justiça do RS, em Porto Alegre. Ao todo, são 2.531 folhas, distribuídas em 13 volumes do processo.
A primeira audiência no Fórum de Capão da Canoa ocorreu no dia 13 de março. Nenhum dos réus falou. Na saída, conforme reportagens da época, os quatro teriam dirigido “sorrisos irônicos e gestos obscenos” em resposta ao público que os vaiava.
Bolívar, Cid, Daniel e Carlos foram julgados nos dia 13, 14, 20 e 21 de junho de 1988, em Capão da Canoa. Em todos os eventos, era grande a aglomeração de populares em volta do prédio.
A advogada e escritora Lígia Steigleder, autora do livro O Caso Alex – Justiça?, fala do paradoxo ao avistar pela primeira vez os indiciados. “O aperto em meu peito tornou-se quase insuportável: bonitos, saudáveis, bem vestidos.
[bloco 3]
Típicos representantes do jovem da moderna classe média.”
Nenhum deles assumiu a autoria do crime. Carlos negou a acusação de que teria instigado o primeiro golpe e afirmou não ter visto qualquer agressão. Cid Borges, acusado de desferir a voadora fatal, alegou estar de costas para o fato e “colando cartazes de propagada eleitoral do pai.”
Bolívar foi o único que admitiu ter agredido Alex Thomas. Diante de um suposto gesto da vítima de levar a mão ao seu ombro, disse no depoimento que pensou estar sendo agredido. Diante disso, afirma ter desferido um tapa. Após, cita não ter visto qualquer agressão e só teria observado, já de dentro do carro, a vítima sentada no meio-fio.
Daniel, ao contrário dos demais, passara os dois anos anteriores na Clínica Psiquiátrica Pinel. Apesar do depoimento confuso, foi ele quem contou os detalhes das agressões. “O ‘Nego Dodi’ (Bolívar) deu sem motivo dois socos no rapaz, que tentou fugir. Foi alcançado pelo ‘Zé do Brinco’ com uma paulada nas costas e, quando caiu, deixou que o Márcio e o Fábio saltassem de joelhos sobre o peito dele. Mas o Thomas ‘pifou’ mesmo quando o Cid terminou a briga com uma voadora”, disse no depoimento à Justiça.
O juiz pediu se Alex Thomas havia provocado o grupo. Daniel respondeu. “Os caras disseram que ele se jogou na frente do carro. Mas eu não acredito. No outro dia, se mandaram. Disseram que eu devia voltar, que tinha sujado.”
Por fim, o único réu absolvido afirmou ter sido ameaçado por integrantes do grupo, após o crime, para que evitasse delações. “São marginais que viviam assombrando no centro. Prometeram me tirar os dentes se eu falasse. Mas sou inocente e tenho que me defender.” Tal relato foi decisivo para a decisão dos jurados.
As condenações e a liberdade
Em artigo publicado no dia 8 de março daquele ano, poucos dias após o crime, o jornalista e escritor, José Alfredo Schieroldt, resumia o sentimento da comunidade lajeadense. “Infelizmente, o poder econômico e os truques jurídicos vão impedir a grade aos pivetes filhinhos de papai.”
Não impediram. Mas a Justiça, na opinião de amigos e familiares, ficou aquém do esperado, apesar das condenações na área civil que, supostamente, deveriam garantir, entre outros, o pagamento de dois salários mínimos à família até 2035, quando Alex completaria 65 anos de idade.
No primeiro júri realizado na SAAC, em Capão da Canoa, foram julgados Carlos Alberto e Cid Borges. O primeiro foi condenado a oito anos de prisão no regime semiaberto por ter incitado a briga que causou a morte. O segundo, 12 anos em regime fechado, com redução de um por ser menor de 21. Foi dele a voadora considerada fatal.
No segundo júri, Bolívar e Daniel sentaram no banco dos réus. Por ter iniciado a agressão e ter desferido ao menos dois socos em Alex Thomas, Bolívar foi condenado a pena de nove anos, com redução de um por ser menor de 21 anos. Já Daniel “Louco” foi absolvido. Os menores de idade foram encaminhados à Febem.
Os maiores cumpriram as punições. Carlos Alberto passou pelos presídios de Osório, Central de Porto Alegre, e Taquara. Ficou encarcerado entre 1986 e 1989. Três anos e cinco meses após a condenação, foi solto em liberdade condicional. Bolívar cumpriu pena nas mesmas penitenciárias e recebeu liberdade condicional três anos após o crime.
Cid Borges também passou nesses presídios, além de ficar em Santa Rosa. Passados três anos e nove meses, ganhou liberdade provisória. Os três menores de idade Fábio Delapieve Bressan, Márcio de Freitas Nunes e José Carlos de Azevedo Moreira, o “Zé do Brinco”, ficaram por dois anos na Febem.
‘Daniel Louco’ morreu. Cid, Bolívar e Fábio continuam amigos. O primeiro chegou a atuar como CC em governos estaduais na década de 90. Bolívar foi gerente de rádios de Estrela e Encantado. Já Fábio é o diretor da 1ª Vara do Trabalho de Gravataí. A situação dos demais envolvidos no crime não foi descoberta pela reportagem.
“Foi o maior caso da minha vida”
Ney Santos Arruda foi praticamente intimado pela comunidade lajeadense para atuar como assistente de acusação. Atuou junto do promotor de Justiça, José Antônio Paganella Boschi. “Eu estava de férias e me chamaram. Atuei no caso sem cobrar nada. Foi uma questão comunitária. A sociedade e a opinião pública cobravam justiça.”
O advogado, hoje com 86 anos, admite ter sido o “maior caso” de sua carreira profissional. “Tenho mais de 50 anos de advocacia. Mas, esse caso, de mais de 13 volumes, por todo o enredo envolvendo a comunidade, e toda a repercussão na mídia, foi o maior da minha vida.”
[bloco 4]
Para ir e voltar de Capão da Canoa, onde ocorriam todas as audiências, Arruda contou com apoio de outros líderes comunitários da época. “Lembro que o Nilo Rotta disponibilizava veículos quando era necessário. Outros ajudavam com a gasolina. Naquele tempo não era tão simples ir à praia”, lembra.
Para ele, a não aplicação de penas mais severas aos réus se deu pela ausência de antecedentes criminais. “Isso os ajudou muito. Sabia-se de alguns delitos, mas havia poucos registros”, opina. Mesmo assim, afirma que o resultado foi justo. “Todos, com exceção do Daniel, foram condenados. E era esse o desejo de justiça de toda a comunidade.”
Naqueles pouco mais de dois anos e meio entre a morte e as condenações, Arruda passou por fatos inusitados. No primeiro júri, foi confundido com advogado de defesa dos réus. “O pessoal começou a me vaiar e xingar quando cheguei à audiência. Minha mulher foi quem avisou a multidão que eu estava do lado deles. Daí fui aplaudido.”
Sobre comentários de supostos gestos de arrogância dos réus durante o processo, o advogado garante não ter presenciado tais cenas. “Eles não tiveram chance de agir assim. Estavam com medo. Tinham o temor de serem linchados sempre que chegavam para uma audiência.” Em cada audiência, vários ônibus repletos de lajeadenses chegavam lotados ao litoral.
Arruda, que chegou a ser ameaçado durante o processo, elogia o trabalho do promotor, considerado como um amigo por toda a família. “Foi o melhor que já vi atuar.” Por fim, até entrevista ao Fantástico o advogado deu naquele caso que, entre outros detalhes, teve até defensor público desistindo da defesa por pressão da esposa lajeadense.
Consequências do fato
A morte de Alex Thomas virou notícia nos principais jornais e revistas do país. O Globo, Revista Veja, Jornal do Brasil, Zero Hora e Correio do Povo foram alguns deles. A forte repercussão tomou proporções ainda maiores. Dias após o brutal assassinato, o então secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre, Cleon Guatimozim, organizou uma ampla fiscalização das academias de artes marciais.
Isso porque os agressores do jovem lajeadense, conhecidos como “Matrizeiros” por integrarem a “Gangue da Praça da Matriz”, seriam praticantes das lutas. Essa gangue aterrorizava o centro da capital gaúcha. Até em policial chegaram a bater. Logo no dia 7 de março, menos de duas semanas após o crime, 17 academias foram autuadas por irregularidades. Cada uma multada em 825 cruzados.
Mestres e professores foram obrigados a apresentarem atestados de bons antecedentes. As academias também tinham que apresentar a ficha corrida de todos os alunos e praticantes. Em 19 de março do mesmo ano, o senador baiano Nelson Carneiro encaminhou projeto de lei para regulamentar as academias de artes marciais. Como argumento, citava o crime de Atlântida. Algo que veio a ocorrer só em 1998.