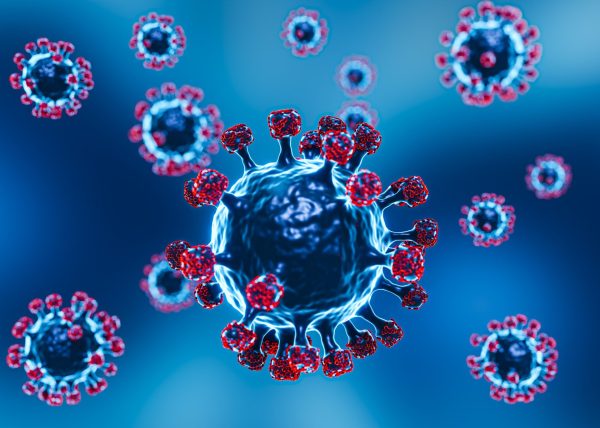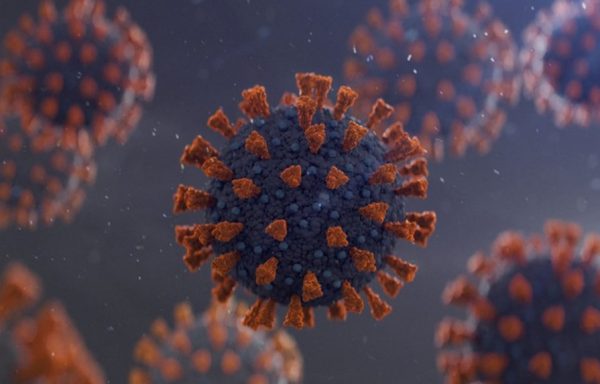Antes, não tinha nada para os negros fazerem. Nenhuma opção de lazer. Só o trabalho na pedreira. Naquele tempo, década de 1970, não era qualquer local que uma pessoa de pele preta podia entrar. Foi assim que nasceu Operário Futebol Clube, em Cruzeiro do Sul.
Os integrantes eram todos de famílias residentes na área da pedreira, fosse na Caverna, entrada da Bica ou cantão da Vó Nóia. Todo mundo era meio parente. Vieira, dos Santos e da Rocha eram alguns dos sobrenomes mais comuns.
O município cedeu um terreno no Centro, onde hoje ocorre a Festa do
Aipim. Era um potreiro. Aos fins de semana, os futuros atletas trabalhavam com as mãos e enxadas para arrancar guanxumas e ajeitar o gramado.
Estava formado o campo dos negros. No local, foi construída a sede do Operário, onde eram realizados também os bailes.
“A gente só tinha esse divertimento. Nunca tivemos cinema, nada. A diversão era o Operário. Sábado era bailinho e domingo tinha jogo. A gente ia olhar a partida, mas queria mesmo era o baile”, recorda Maria Teresa da Rocha, que jogou na defesa do time feminino.
De um lado, ficava o campo dos brancos. Do outro, o dos negros. Separados apenas por uma rua. O jogo entre Operário e Cruzeiro era um clássico. E o Cruzeiro sempre era favorito.
Na véspera de uma dessas partidas, os atletas do Operário focavam em não perder por muitos gols. Chegou o domingo e o time dos negros venceu por um a zero. Gol de falta de Zé Grilo.
“Foi a maior felicidade dos pretos que eu vi até hoje. A festa começou ali mesmo. Fizemos a volta no campo do Cruzeiro e entramos no do Operário comemorando. Foi parar segunda-feira de manhã”, recorda Adão Luis dos Santos, que foi meia direita e presidente do clube.
Com o tempo, os mais antigos envelheceram, muitos morreram e as novas gerações não deram continuidade ao clube. Na década de 1980, o Operário encerrou as atividades.
Estima-se que o clube tenha durado cerca de 10 anos. É difícil precisar as datas dos fatos, pois os registros oficiais da agremiação se perderam. Os integrantes vivos permanecem, em sua maioria, morando na mesma localidade. Nas suas memórias, segue bem vivo o time que levou os negros da região a espaços onde antes não podiam pisar.
Caso de polícia
“Ainda existe um pouco de preconceito, mas naquele tempo era maior. Tinha lugares aqui em Cruzeiro que preto não entrava, como o Grêmio Recreativo Esportivo União. Tanto foi que teve um senhor que construiu um salão só pra preto”, conta Santos.
O surgimento da equipe alertou as autoridades e o delegado mandou chamar os responsáveis. Queria saber que história era aquela de um time só de pretos, suspeitava de racismo. Adão foi à delegacia prestar os devidos esclarecimentos.
“Coloquei pra ele que nós nunca proibimos um branco de jogar. Nós abrimos o time e quem nos procurou foram só os pretinhos”, recorda. Logo depois, o time passou a contar com maior presença de brancos, tendo o empresário Nico Sehn integrando a diretoria.
Adão voltou a procurar o delegado. “Só para o senhor ver que estava enganado, que a história não era como lhe contaram”.
Um dos fatores apontados por ele para uma maior aceitação dos negros na cidade foi a chegada de dois brigadianos de pele escura. “Aí eles viram que o negro não servia só pra trabalhar quebrando pedra”.
De futebol e baile
Aos sábados e depois dos jogos, tinha baile na sede. Tocava vanerão, bandinha, mas o principal era samba. Martinho da Vila era sucesso garantido.
“O chão era de brita solta, subia uma poeira que não se via nada, mas era a coisa mais linda do mundo”, diz Clécio Guimarães, o Pepé, que apesar do problema na perna que rendeu o apelido, possuía o chute mais forte do time.
A bebida favorita também era o samba. “Cachaça com Coca, mas a Coca era só um pouquinho, pra pretear e não dizerem que era canha pura”, brinca outro integrante.
O time das Américas
As mulheres da comunidade formaram um time feminino, as Américas. Maria Iolanda Farias foi fundadora e a primeira presidente. Tirou do seu salário em uma metalúrgica o dinheiro necessário para o início.
“Só tinha quatro gurias, eu e minhas três cunhadas. Nós botamos na cabeça e fomos. A gente nem sabia chutar uma bola”, recorda.
Com a direção formada, foram atrás das atletas. Coube a Décio Luís Vieira organizar a equipe.
“Fui o cara que montou o time das Américas. O senhor me dá um time para montar, eu monto. Na hora de jogar, eu sou sacado e o outro entra de treinador. Mas era tudo combinado, numa boa, tinha votação. Nunca fiquei brabo com ninguém. Eu amava meu time e amo até hoje”, afirma Décio.
Outros times pretos no Vale
O Operário não foi o único time majoritariamente formado por negros na região. De acordo com os
antigos integrantes, o início das atividades do clube coincide com o fim do Escurinho, que atuava em Lajeado.
No Passo de Estrela, formou-se também o Ferroviário, com outro grupo. Havia outras equipes formadas por integrantes das mesmas famílias, como o Longe da Bola, de veteranos, e as Américas, feminino.
De um racha na direção do Operário, surgiu o Grupo de Casais. Ainda que fosse formado por integrantes de um mesmo núcleo, havia rivalidade.
Décio recorda que, sem vaga entre os titulares do Operário, foi jogar no Grupo de Casais e venceu o confronto contra o ex-clube.
“Eu alugava uma casa no Passo, mas morava durante a semana no meu cunhado. Depois do jogo, disseram pra eu ir embora com a mulher e a filha pequena. Uma semana depois, minha sogra foi lá em casa pedir desculpa, que era pra nós voltarmos”, lembra Décio.
Craques da pedreira
Do futebol da Pedreira, saíram atletas que disputaram campeonatos por outros times da região e até mesmo profissionais. Badô, Cuni, Naco, Marretinha e Caco são alguns dos mais lembrados.
Saiu de Cruzeiro o homem que acabou com a festa de despedida de Paulo Roberto Falcão do Internacional. Em julho de 81, Falcão já estava acertado com a Roma, da Itália, e sua última partida foi contra o Lajeadense.
O time de Lajeado venceu por um a zero, com gol de Mauro Farias, revelado pelo Operário.
Netos da Vó Nóia
O time do Operário não era tecnicamente o melhor da cidade e não chegou a ser campeão municipal. Mas tinha muita vontade e uma torcida fiel, que incluía charanga com percussão, viola e cavaquinho.
Entre os torcedores, se destacava Eva Caetano dos Santos, a Vó Nóia. “Ela chacoalhava o alambrado e gritava. Ela xingava, xingava e depois pedia: ‘paga uma cachacinha pra vó’”, recorda Flávio Antônio da Rocha, o Tonho, filho de Eva.
Durante um período, a ilustre torcedora viajava de graça nas excursões e tinha consumo liberado na copa. Se perdia a carona para o jogo, Nóia ia a pé para ver o Operário jogar.
Valsa negra
Filho de sangue da famosa Vó Nóia, Tonho saiu de casa aos sete anos e foi criado por uma família germânica. Depois, seguiu carreira profissional no futebol. Só participava dos jogos do time dos parentes quando estava de férias.
Em uma dessas partidas, em Bela Vista, Arroio do Meio, recorda que a divisão era exata: de um lado, só negros; do outro, só germânicos. Depois do jogo, essa separação se desfazia e o baile era junto e misturado.
Quando a banda tocou uma valsa em alemão, Flávio subiu no palco e disse que ia cantar. Um dos músicos quis saber se ele falava alemão. “Sprecht du Deutsch?” , perguntou. “Ja, ja, sicher”, confirmou Tonho.
“Rapaz, parou o baile. Teve uns que até sentaram para olhar. Foi um sucesso. Depois, a gente não conseguia mais ir embora”, recorda Tonho.